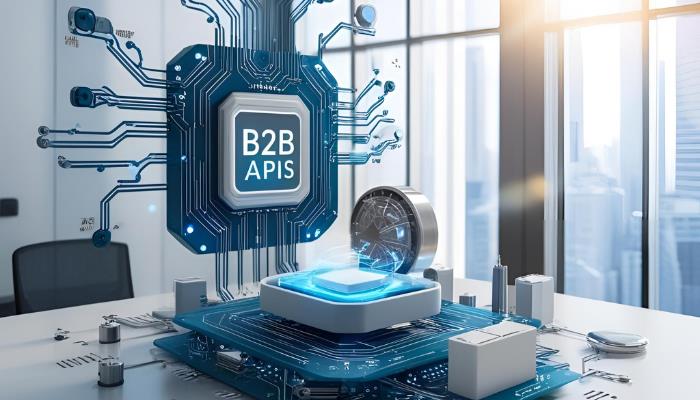- São Paulo - SP
- Quem Somos FAQ Fale Conosco Cadastre-se Login
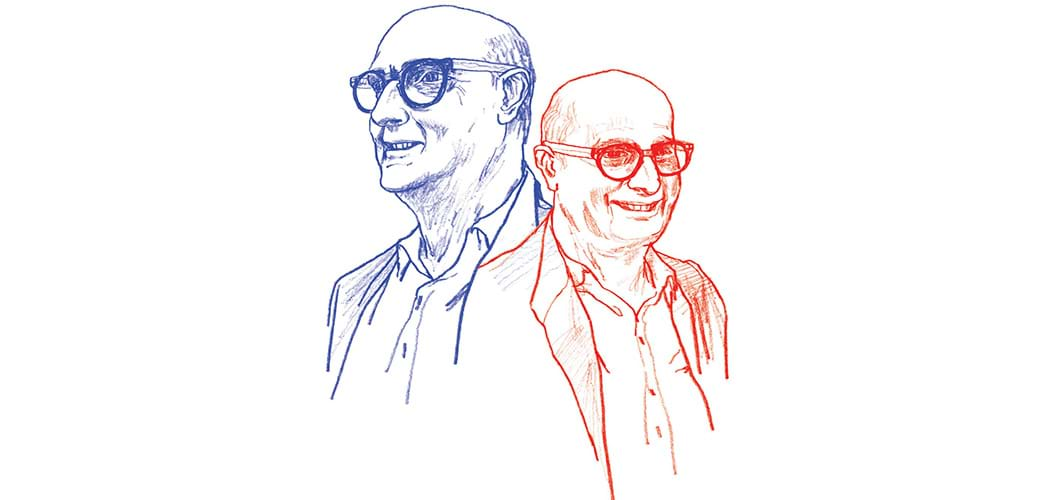
Entrevista: arquiteto Ciro Pirondi avalia caminhos para um urbanismo consciente e coletivo pós-pandemia (Foto: daniloz)
O arquiteto e urbanista Ciro Pirondi tem passado os dias debruçado sobre projetos, sempre desenhados à mão, isolado em sua casa, em Mogi das Cruzes, SP. Aos 64 anos, integra o grupo de risco da Covid-19 e evita sair a todo custo – precaução que o sujeita a incontáveis videoconferências para prosseguir com a rotina em seu escritório de arquitetura e como diretor da Fábrica - Escola de Humanidades João Filgueiras Lima, o ensino médio técnico recém-aberto pela Escola da Cidade. Como todos, ele se questiona sobre o futuro, encoberto pela sombra do novo coronavírus, que se espalha pelo mundo e produz vítimas em escala exponencial. Enquanto isso, rascunha em sua mente otimista a mudança de comportamento que sedimentará a cidade a partir de agora. Acredita que esta vai se concretizar pela mão de muita gente, de diferentes disciplinas, numa união de saberes.
“A nova arquitetura terá uma dimensão poética. Talvez os espaços sejam cada vez mais desprovidos de tantas definições, cada vez mais efêmeros. O foco recairá sobre a construção de uma inteligência coletiva”, prevê. Em entrevista concedida por vídeo para a edição de maio da Casa Vogue, Pirondi reflete sobre erros, incertezas e possibilidades para os próximos tempos.
"O desenho, como dizia o professor Vilanova Artigas, é desígnio, intenção, propósito, desejo, coletivo. Só assim faremos uma cidade mais humana, melhor, densa, onde vamos gerar riqueza para todos, não só para alguns""
Ciro Pirondi
As cidades serão as mesmas após a pandemia?
A cidade é feita pelas pessoas, é um aporte humano para a civilização, talvez o mais sublime que o homem conseguiu inventar. E as pessoas não serão mais as mesmas. Vai ocorrer uma guinada com o enfrentamento de questões básicas da existência, como a ideia de solidariedade. Os conceitos mudarão e, consequentemente, as cidades assumirão atuações e usos diferentes. Na educação, isso já acontece. Não existe mais a noção de que prevalecerá um dos dois tipos de ensino, remoto ou presencial. Eles vão se equilibrar. Na Escola da Cidade, por exemplo, vivemos um momento muito interessante. Há 20 anos promovemos, todas as quartas-feiras, o Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, destinado aos alunos e aberto para outras escolas e público em geral. Tínhamos presencialmente uma média de 300 participantes, enquanto a versão que estamos realizando on-line ganhou abrangência e atinge cerca de 2.500 pessoas. É uma modificação de estrutura, de postura, de uso das coisas. Isso reflete na cidade.
Quais foram os equívocos arquitetônicos e urbanísticos de São Paulo, capital brasileira onde foi, até agora, registrado o maior número de casos de Covid-19?
Os equívocos são civilizatórios. Todas as cidades latino-americanas surgiram sob o paradigma da exploração, da noção de que a pessoa viria aqui rapidamente, usufruiria de tudo, reviraria o que pudesse e voltaria para a metrópole europeia. Isso entra em rota de colisão com muitos aspectos, principalmente o ambiental. Nós viemos cometendo erros difíceis de superar. Cabe a ação política, os governantes confiarem nos técnicos – não só nos urbanistas – e em iniciativas multidisciplinares. As pessoas falam do Minhocão [Elevado Presidente João Goulart, em São Paulo], esta discussão sem fim. Foi um erro urbano. O que fazer agora é outra história. Antes, precisamos admitir o engano. A quantidade de avenidas e viadutos sobre o parque Dom Pedro II é outro exemplo. A impermeabilização das marginais, mais um. Tirar dois lotes onde viviam duas famílias e construir um edifício para duzentas com a mesma infraestrutura... e por aí vai. É o principal nó das cidades latino-americanas, e São Paulo se inclui nisso, que é a ausência absoluta de infraestrutura.
O homem pensa em Marte, mas não resolve, desculpe a indelicadeza, o xixi e o cocô da cidade. Não me venham com esse discurso de que falta dinheiro, isso é mentira deslavada. Faltam três coisas para qualquer cidade entrar nos trilhos: vontade política verdadeira, competência técnica e inclusão da população nas decisões. As boas ideias atraem dinheiro e recursos, só os nossos governantes não querem ouvir isso. Eles acham que em quatro anos vão transformar a cidade. Dá vontade de rir. Eu falo sempre: em quatro anos, você vai reformar dois hospitais, fazer três praças, e acabou.
Nesta mesma cidade, São Paulo, e em outras do país, uma das grandes preocupações é a chegada do vírus às favelas. Você fez, com Ruben Otero e Anália Amorim, o Plano Diretor de Paraisópolis. Que obstáculos essa população enfrentará agora?
Elaboramos o Plano Diretor de Paraisópolis [comunidade na zona sul de São Paulo] ao longo de três anos, depois continuamos mais um pouco. Houve um envolvimento muito grande da população, lideranças fortes. Nós expusemos o projeto na 4ª Bienal Internacional de Arquitetura de Roterdã, em 2009, e o líder comunitário [Gilson Rodrigues] fez o melhor discurso do evento. Ele falou que, se os filhos nascessem e continuassem sob aquela mesma condição, preferiria que eles saíssem de lá. Mas, se fossem implantados aqueles trabalhos, aí, sim, poderiam ficar. A favela não é um lugar bom. Só mesmo os urbanistas que vêm de fora e passeiam dois dias por ali acham aquilo uma coisa divina. Eliminemos essas visões românticas e distorcidas sobre as comunidades. A favela, a periferia como um todo, é a cidade. Atuo em várias comunidades, inclusive no Rio de Janeiro e na periferia de São Paulo. Não é possível que a gente não entenda de uma vez por todas que a cidade real é a informal. A grande maioria da população brasileira vive em condições precárias. Com o novo coronavírus, isso vem à tona de maneira muito evidente porque todo mundo se apavora. Claro, se essa pandemia pega em Paraisópolis, onde grande parte dos moradores trabalha no entorno, ela vai se alastrar para muito além de seus limites. Agora, constato nessas localidades um princípio de solidariedade que nós, aqui fora, não aprendemos ainda. Eles se ajudam. Minha preocupação maior é com a fome, porque eles não estão trabalhando.
O poder público tem de levar comida e medicamentos. Parar com essa loucura de priorizar a economia. Isso nós vamos arrumar. O que adianta a economia a toda força com as pessoas mortas? Trata-se de um princípio elementar de humanidade, de civilização. Não precisa ser gênio da filosofia ou da economia para concluir que esse pensamento está errado em sua matriz. Quantas vezes o Brasil resgatou a economia? Nós, da Escola da Cidade, começamos um movimento de amparo social em nossa vizinhança, das pessoas que moram ao redor da escola, nas calçadas. Vamos ceder alimentos, remédios, itens de higiene, para socorrer, pelo menos, o próximo. Se todo mundo agir um pouco assim, as comunidades vão superar tudo isso.
Quais ações podem mitigar problemas de moradia?
A primeira é enfrentar a questão dos 400 mil m² abandonados no centro paulistano. Nós dispomos de uma infraestrutura incrível lá, onde está a escola, meu escritório, o centro, a Sé, a Praça da República, Santa Cecília e Campos Elíseos. Não requer nenhuma mágica, basta fazer um pequeno cálculo. Digamos que uma boa habitação social tenha 60 m². Quantas unidades criaríamos com os equipamentos já existentes? São Paulo necessita adensar-se para otimizar essa infraestrutura. Falta uma discussão séria sobre isso. O senso comum acha que o prédio alto perde a dimensão humana. Ora, eu cito dois exemplos nossos e um de fora. Em São Paulo, o Conjunto Nacional e o Copan evidenciam como a cidade consegue se adensar sem perder a escala do pedestre. E Chicago inteira é uma das metrópoles mais bem estruturadas do mundo. Você caminha por parques, entre os térreos dos edifícios, que são espaços públicos. É uma questão de desenho. Mas não do arquiteto solitário, como Demiurgo, aquele deus grego que, toda manhã, acordava e inventava um novo mundo, e, sim, de uma maneira multidisciplinar. O desenho, como dizia o professor Vilanova Artigas, é desígnio, intenção, propósito, desejo, coletivo. Só assim faremos uma cidade mais humana, melhor, densa, onde vamos gerar mais riqueza para todos, não só para alguns.
Nos últimos anos, vimos lançamentos de estúdios de 20 m², que apostam no uso de áreas comuns. Com a possibilidade de vivermos isolamentos intermitentes pelos próximos dois anos, como um estudo recente apontou, essa tendência será revista?
Eu não vejo necessidade de espaços tão pequenos numa cidade que ainda possui tanta área para se construir. Trata-se de um modismo importado de países que não dispõem mais dessa condição, como Japão, Coreia do Sul... Agora, com esse problema, constatamos a importância do equilíbrio. Você tem de criar espaços comuns – e com isso concordo plenamente – nas áreas de feitura de coisas. Os edifícios precisam ser múltiplos, e não só de habitação, comércio ou serviço. Você desce e compra o pão ali ao lado. Uma residência é o endereço. Mais vale um pequeno apartamento, com tamanho mínimo para uma família viver, na Champs Élysées, que numa mansão no deserto. Esses pequenos espaços forçam uma vida que, agora vemos, não é bem assim. Se preciso ficar mais tempo na minha casa, quero um lugar adequado para isso. E essas moradias de 15 m², de 20 m², não chegam lá. Eu gosto sempre de usar uma frase que o Lúcio Costa me disse anos atrás, que aplico na minha vida, reproduzo para os meus alunos e vou falar para você: todo excesso nega o fim proposto. Acho isso lindo.
Uma grande preocupação vem do setor cultural, com cinemas, teatros e casas de shows que reúnem multidões em espaços fechados. Talvez seja cedo para perguntar, mas esses lugares serão repensados?
Tendemos ao equilíbrio. Ainda é mesmo muito cedo para falar, mas já se vinha discutindo isso na arquitetura: o que as novas tecnologias alteram nos espaços físicos? Lembro de um exemplo que o Renzo Piano fez, uma igreja destruída na Itália, uma ruína, em que ele propôs uma espécie de cobertura leve e, nos bancos, a instalação de monitores para o visitante assistir a um concerto que está acontecendo em outro lugar. Vamos encontrar novos usos. Quando o Papa Francisco sai na praça solitariamente e faz aquele gesto, no local onde trabalharam Gian Lorenzo Bernini, Michelangelo, Donato Bramante, é até bonito ver aquela arquitetura vazia, com um único homem, com tamanha força. É algo possível, estamos começando a perceber, algo que vai dar outros caminhos para a arquitetura.
O antropólogo e sociólogo italiano Domenico De Masi já havia formulado a ideia do tempo e dos espaços livres. O Flávio Motta, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, falava dos “espaços sem nome”. A nova arquitetura terá uma dimensão poética. Talvez os espaços sejam cada vez mais sem tantas definições, cada vez mais efêmeros. Talvez testemunhemos a construção de uma inteligência coletiva, que não é só de uma pessoa, que vai se fazer solidariamente, conjuntamente. E, para isso, deixemos os egos de lado. Geralmente, os arquitetos têm o ego maior que a própria sombra, e nós somos apenas prestadores de serviço à comunidade, nada mais do que isso.